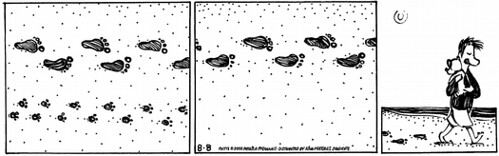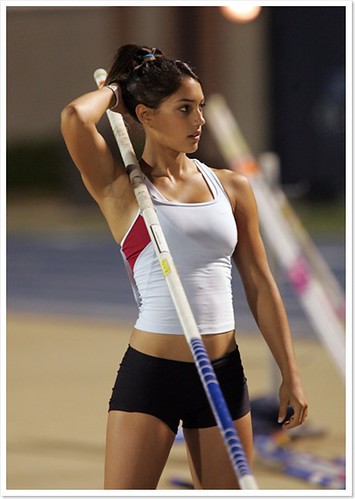(este é longo e vai de rajada por isso desculpem qualquer coisinha - erros e tal)Reza a lenda que no tempo da outra senhora, certo dia um não
habitué do Grémio (um clube de latifundiários do Alentejo, sediado em Évora) permitiu-se entrar em tão selecto ambiente – ou tê-lo-ão deixado entrar, quiçá por caridade – onde terá beberricado uns néctares e provado umas
late night iguarias. À saída, para sua surpresa, verificou que o capote que tinha deixado à entrada tinha desaparecido. Dirigiu-se ao porteiro, explicando-lhe isso mesmo. O porteiro ficou horrorizado, não pelo facto em si mas pelo mensageiro.
- Meu caro senhor, o senhor está a insinuar o quê? Que o seu capote foi roubado?
- Bem, não é bem isso que…
- O Senhor julga que está onde?
- Estou em Évora e…
- As pessoas que frequentam este clube são gente de bem!
- Estou certo que sim…
- Gente de boas famílias! Gente abastada para quem um capote não é absolutamente nada!
- Certo, mas…
- Isto é uma casa séria!
- Não digo que não, mas…
- Gente de fino recorte! Gente que cultiva o civismo!
- Já acabou de falar?
- Sim. Claro!
- O senhor está carregado de razão. É tudo gente de bem, sangue azul, até.
- Sim!
- Mas há uma coisa que eu sei. Sabe qual é?
- Não!
- É que me falta o capote.
Vem isto a propósito da resposta do
Maradona (com maiúscula, pode ser?) ao meu anterior
post. Segundo o
Maradona - ele que até se cansa de explicar o óbvio à ralé - tudo (a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos) correu dentro da normalidade: as declarações dos atletas foram as habituais (normais) e pautaram-se dentro dos parâmetros permitidos pelo evento, época, local e clima; os resultados foram os possíveis (tal como os dos outros atletas); o nível foi razoável/bom, já que ficámos na mesma linha de países que são uma referência de civilidade e organização (por exemplo, a Finlândia); foi, em suma, o possível e o possível é o possível é o possível. É claro que perante a força deste genial argumentário, deixa de fazer sentido comentar alguma dose de palhaçada e o sentimento de desilusão que envolveu a nossa presença em Pequim. As declarações estapafúrdias de alguns atletas, a posição demissionária de Vicente Moura (terá sido por causa da normalidade?), os resultados medíocres de atletas que estão no topo do ranking mundial, as queixas de alguns atletas relativamente ao critério de selecção de outros (que acharam não ser dignos de representar a comitiva) – nada disto pode ser discutido. Perdido para sempre está o nexo causa-efeito e essa coisa chata da responsabilidade.
Como o Maradona explicou às criancinhas (ou melhor, a esta criancinha), o corolário do seu teorema é o de que tudo correu dentro do que era possível (argumento fortíssimo). Afinal, os atletas portugueses são todos bons rapazes – alguns, até, com um sentido de humor fantástico – e pouco ou nada há a dizer nestes casos. É um pouco como a história do capote: eram todos muito bons (por alguma razão ganharam uma presença nos J.O.), comportaram-se dentro do que é possível e disseram o que habitualmente se diz. O que ficou a faltar foi mesmo o capote.
Não sei se o maradona – perdão, Maradona - me está a acompanhar, mas a sua resposta veio encaixar que nem uma luva naquilo que eu previra que seria o tom e o teor da mesma. O que não deixa de ser manifestamente lixado para quem dissertou e expôs ao ridículo, com o seu habitual e esmerado brilhantismo, a característica prestidigitadora do meu texto. Bem espremida, a resposta do maradona – perdão Maradona – é todinha baseada na questão da imponderabilidade, da sorte e do azar, e na assumpção de que estar ali já é uma vitória e que as medalhas não são assim tão importantes. E acabou, como eu também previ, a tresler o que eu escrevi.
É óbvio que a «pressão» pode explicar muita coisa. É normal e transversal que assim seja. Mas a minha questão prendia-se com a necessidade, o valor e utilidade da utilização desse argumento. O Maradona que me desculpe, mas eu vou arriscar uma coisa complicadíssima de entender: todos os atletas estiveram sujeitos à «pressão», todos os atletas acharam as provas difíceis (excepto, talvez, o Bolt), da mesma forma que todos os atletas respiraram o mesmo
smog. Eu não sei se o maradona – perdão, Maradona – me está a acompanhar, mas é absolutamente inconsequente, desnecessário e infantil justificar um mau desempenho com a história da «pressão», mesmo que a «pressão» tenha tido o seu peso no resultado. Se uma corrida de Fórmula 1 tiver que ser disputada por todos em pista molhada e, por imperativo pontual, tiver que ser obrigatória a utilização de pneus
slick, a última coisa que eu quero ouvir, no final, da boca de um piloto a quem lhe correu mal a prova, é o argumento dos «pneus slick». Bem mais interessante é saber quem soube adaptar-se às condições da pista, quem soube superar com inteligência o
handicap e quem teve mãos e sangue frio para chegar ao podium. E porquê. [Ou, eventualmente, saber se alguém empurrou alguém para fora da pista.] «Ah, mas o gajo que ficou em quinto e o outro que saiu da pista até era bons e, já se sabe, estas coisas acontecem a uns e a outros. É uma roleta!» De acordo. Mas naquela corrida, os melhores foram ao podium. E eu aposto um sprint de 50 metros com o Maradona (eu de botas e ele de ténis) em como a probabilidade de ganhar o gajo que treinou incessante e obcecadamente aquela corrida em vários pisos, e se preparou mentalmente para todo o tipo de situações e adversidades, é maior do que a do gajo que preparou a coisa «dentro do possível», entrou na prova a pensar que eram «favas contadas», deteve-se várias vezes nas mensagens que o público acenava em cartazes e passou o tempo a pensar que o malandro do corpo não parava de pedir «caminha». A não ser, claro, que seja um génio.
O meu ponto é simples e o Maradona vai certamente tentar acompanhar-me. Não estou a falar de
ambição nem pretendo armar-me em especialista (nem me parece que o
Jacinto Bettencourt esteja a falar a sério com aquela história do «vocês não sabem o que é acordar às seis da manhã e ter contas para pagar e mudar a fralda ao puto»; é demagógico demais para ser verdade). Estou a falar da velhinha atitude portuguesa de enfiar a cabecinha na areia e desculpar ou branquear o que é óbvio e notório. Eu não quero super-homens infalíveis nem gente que morra a correr porque supostamente o país assim o espera e o contrário (perder) é pior que a morte. O que eu queria era que, muito calma e serenamente, se percebesse e assumisse que a participação portuguesa nestes J. O. (apregoada como sendo a maior e com a ambição de pontos e medalhas fixadas pelo próprio Vicente Moura e não por mim) correu mal e que as evidências das causas vieram demasiadas vezes ao de cima (falo do laxismo, da bonacheirice, do excesso de favoritismo, da falta de entrega e de preparação de alguns - atenção de
alguns). E que, de uma vez por todas, deixássemos de nos desculpar com os outros (ou porque fizeram igual ou porque esmagaram a concorrência). Só não vê quem não quer. E é este colectivo «não ver», aplicado a tantas outras áreas da sociedade portuguesa, que nos lixa e corrói. Só «ver» já seria bom, mesmo que, a seguir, se não fizesse nada. Mesmo que, a seguir, não tentássemos aprender com os erros e não tentássemos ser um pouco melhores.
PS: e eu também gosto da Naide Gomes ó palhaço!